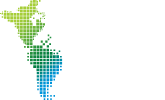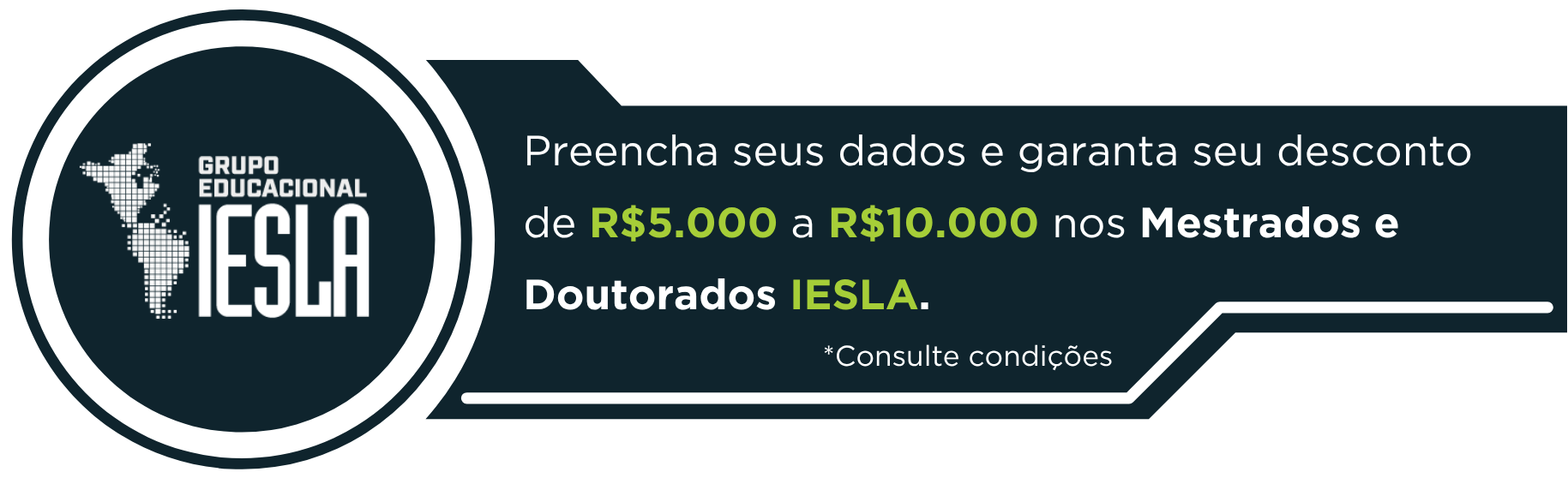Palestra conferida em uma universidade boliviana.
Por Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni
Ministro da Suprema Corte Argentina
Sinto o enorme peso da história neste berço do pensamento revolucionário de emancipação, no centro de difusão de ideias de nossas Revoluções, do 25 de maio, 1809 e 1810, sendo esta última a que levou ao primeiro governo nacional da Argentina, de fato dirigido por um potosino.
Comove-me pensar nos heróis que passaram pelos claustros desta Universidade e os quais receberas as luzes dos pensamentos ideológicos e jurídicos da Academia Carolina de Charcas. Mariano Moreno, Bernardo de Monteagudo, Juan José Castelli, José Ignacio Gorriti, José Mariano Serrano, Manuel Rodriguez de Quiroga, Mariano Alejo Alvarez, Jaime de Zudañez, só para citar alguns, redatores das Constituições, revolucionários, signatários de procedimentos de independência, magistrados, ministros, sonhadores da nossa América do Sul.
A questão pela qual me permito receber esta alta distinção não se encontra separada da tradição iniciada neste centro que irradia luzes. Tratar uma questão de política criminal envolve lidar com um capítulo da política, pois o velho conceito supostamente asséptico de Franz von Liszt é hoje ultrapassado. Enquanto a dogmática jurídica-penal é um projeto técnico de política judiciária, ou seja, do funcionamento de um setor do sistema penal, política criminal abrange o sentido de exercício do poder desse dispositivo e, portanto, a envolve. Por sua vez, o exercício do poder do sistema penal é parte de toda a política ou o exercício do poder estatal.
É indiscutível, portanto, que o poder punitivo é incorporado no eixo da política no sentido amplo do governo da polis, mas num mundo cada vez mais conectado, as sociedades não são isoladas, o seu poder interno é incorporado numa rede de poderes planetários e, no caso da nossa região latino-americana, o poder em nossas sociedades é inseparável do processo de descolonização, que não culminou com a independência do século XIX, mas começou com ela e perdura até hoje.
Sua conclusão ocorrerá somente ao fazermos o ideal dos nossos libertadores e concretizemos “a Grande Pátria”, na qual nenhum dos nossos cidadãos não tenha os elementos básicos para uma existência digna. Este objetivo ainda não foi alcançado, por isso não podemos chafurdar em alguma forma com discursos funerários para o colonialismo, que é de boa saúde.
Existem três etapas até o momento do colonialismo em nossa região, inseridas nos tempos de poder global e indissociavelmente ligadas a diferentes modos de exercício do poder punitivo. A primeira foi (a) o colonialismo em sentido estrito praticado pelas potências ibéricas até o século XIX; (b) a segunda foi o que Darcy Ribeiro e outros pensadores chamam o neocolonialismo, exercido pela nova hegemonia do mundo na queda dos impérios ibéricos decadentes, especialmente a Grã-Bretanha, (c) a terceira etapa é a atual, de tardocolonialismo ou etapa superior do colonialismo.
Esse processo, como dissemos, não é independente do poder punitivo, mas para ele envolve um papel central, porque, primeiro, é o instrumento que verticaliza às sociedades como exército para lhe dar a condição de colonizador e, o outro, é o que permite fazer do conquistado território um imenso campo de concentração.
Deixe-me explicar melhor: em toda sociedade o poder é exercido; há duas formas de exercício do poder social que sempre existiram: a que resolve os conflitos de jeito restaurador (mais ou menos o padrão de direito privado) e a que faz parar um processo prejudicial em curso ou iminente (a coerção direta do direito administrativo, anteriormente chamada poder de polícia).
Em pequena medida também há sempre um poder do soberano ou governante (individual ou assembleia) para eliminar aqueles que ameaçam o todo, mas quando esse poder estende-se a outros conflitos e o soberano declara-se único ferido, se produz o confisco dos conflitos e o poder punitivo usa a vingança coletiva para legitimar seu poder crescente, mas na verdade é exercido para verticalizar hierarquicamente à sociedade.
Assim, à medida que progride o poder punitivo com seu confisco de conflitos, as sociedades vão perdendo ligações horizontais que formam a comunidade, o sentimento de pertença simpática ao comum, para serem substituídos por ligações verticais corporativas de subordinação. A sociedade como um todo tende a se tornar um exército e quando este processo atinge o seu pico, se a fraqueza das sociedades o permite, embarca na sua conquista. Isso é o que Roma fez em toda a Europa e depois Europa ao redor do globo.
Mas a força vertical corporativa culmina petrificando a sociedade colonizadora, a imobiliza, impedindo se adaptar às novas situações da dinâmica de poder e hierarquia própria obtida pelo poder punitivo como condição colonizadora ou imperial que determina o seu declínio e queda. Isto tem claramente acontecido com Roma e séculos depois com o império ibérico.
Comunidade e sociedade hierárquica são dois modelos que nos seus extremos são incompatíveis. O poder punitivo é destrutivo de laços comunitários, porque é o poder vertical, enquanto aqueles são horizontais. Para desenvolver a comunidade é necessário limitar ou reduzir o poder punitivo. Precisamente por isso, a comunidade do povo nazista, a Volksgemeinschaft, era uma caricatura de comunidade, porque ela nunca pode ser organizada com base na exacerbação máxima do poder punitivo, que é o que a destrói; a Volksgemeinschaft foi uma tentativa de extrema verticalização social corporativa disfarçada de comunidade social corporativa.
No nosso continente o poder punitivo era mínimo na chegada do colonizador. Enquanto alguns pontos eram exercidos limitadamente pelo governante para manter o poder e até mesmo para estendê-lo para as aldeias vizinhas, o confisco indiscriminado de conflitos era estranho a nossas culturas nativas e os procedimentos de incorporação não pareciam responder aos métodos que trouxeram os ibéricos (respeito às divindades do povoado incorporado, por exemplo). É possível que sem a colonização, tivesse-se espalhado o poder punitivo em alguns lugares da nossa região, mas como sabemos, a história não é escrita com potencial e este processo, se existiu, foi violentamente interrompido.
O poder punitivo trazido pelos colonizadores foi uma ocupação policial do território formidável, que o tornou um vasto campo de concentração (a colônia não é mais do que isso), uma situação que durou até que os impérios ibéricos declinaram como resultado da sua própria estrutura hierárquica, que lhe impediu se adaptar às condições impostas pela Revolução Industrial e, portanto, perderam a hegemonia central, que foi transferida às potências do centro e norte da Europa.
Nesse momento de fraqueza imperial foi quando nossos libertadores, San Martin, Bolívar, Sucre e os juristas formados nesta Casa, conceberam a Grande Pátria e a libertação de nossos povos. Eles sonharam e definiram o objetivo final de descolonização. Para isso lhes foi imposto perturbar o poder punitivo do grande campo de concentração. Então eles levaram em conta os modelos legislativos e ideias disponíveis em seu tempo: a Constituição dos EUA foi o modelo de república único naquele momento, o código espanhol de 1822 foi o produto de um raio liberal da península, que por sua vez serviu para evitar que um exército de reconquista colonial seja lançado sobre nós a fim de afogar em sangue a nossa independência. San Martin e Bolívar levavam em suas mochilas o pequeno livro liberal de Manuel Lardizabal e Uribe, chamado de o Beccaria espanhol.
Nossos libertadores comandavam exércitos multiétnicos e, portanto, não eram racistas. Castelli, um graduado desta Alta Casa, aboliu as instituições coloniais de servidão dos índios nesta região. O pensamento dos fundadores era igualitário e liberal, conscientes da necessidade de limitar e controlar ao poder punitivo para estimular o senso de comunidade.
Mas nossos libertadores foram vítimas de um assalto à mão armada. O novo poder hegemônico global não podia permitir o sucesso imediato do seu negócio. Bolívar morreu pouco antes de uma nova tentativa para lhe dar a morte; San Martin notou a falha momentânea e escolheu o exílio; Sucre foi covardemente assassinado; Monteagudo foi apunhalado por um assassino em Lima; Mariano Moreno morreu misteriosamente a bordo de um navio britânico; Artigas foi forçado ao exílio no Paraguai; etc.
A nossa região precipitou-se comprometida em sangrentos conflitos fratricidas, até que minorias corruptas montaram pseudo-feudalismos crioulos através do exercício do poder punitivo da ocupação territorial adequado às novas condições, ou seja, ao serviço dos patrões e capatazes subservientes para as oligarquias de proprietários de terras ou extrativas. Essa era a visão desde o porfiriato mexicano até a República Velha do Brasil, desde a oligarquia de carne refrigerada para a Argentina até o patrício peruano.
Mas o mais valioso que aquelas oligarquias roubaram a nossos libertadores foi o discurso liberal: o degradaram, o passaram pela lama dos interesses corruptos, o consagraram em leis e constituições com garantias que nunca respeitaram. A soberania do povo era apenas por escrito, relegado a um futuro distante no qual, graças à suposta proteção destas oligarquias proconsulares da nova hegemonia mundial, os nossos povos alcançariam o desenvolvimento biológico que lhes permitisse a exercer, pois até agora a inferioridade racial o fazia inviável.
O discurso do engenheiro ferroviário Spencer reinava em nossas universidades e legitimavam às minorias das repúblicas oligárquicas e a seu poder de polícia punitivo. Raças inferiores eram perigosas e mestiças ainda mais, teorizados como desequilibrados produtos de mistura racial incompatíveis.
Nossos povos aprenderam a desconfiar das leis e instituições que foram criadas por seus opressores e exploradores. Esta carga de desconfiança institucional arrastou-se ao longo do estágio da luta contra o neocolonialismo, que começou com a Revolução Mexicana de 1910, a mais sangrenta guerra civil do século passado, na qual nasceu para o mundo o constitucionalismo social com a Carta de Querétaro (Constituição de 1917), imposta pelos representantes camponeses e trabalhadores.
Esta resistência ao neocolonialismo prolongou-se quase durante a maior parte do século passado e foi realizada por movimentos populares que ampliaram a base da cidadania real, ou seja, um papel político de liderança que assumiu a satisfação das necessidades básicas para uma vida decente. Eles eram os chamados populismos, tão criticados por muitos de nossos intelectuais, especialmente quando a realidade não concorda com as formas lineares e circunstâncias que eles imaginaram. Isso ocorre porque uma parte de nossa intelectualidade acreditava que quando os fatos não concordam com a ideia, corresponde declarar errados os fatos em vez de corrigir a ideia.
Estes populismos também compartilharam defeitos em diferentes graus: personalismo, contradições, hesitações, excessos, paternalismo, um certo grau de autoritarismo e até mesmo desnecessário poder punitivo. Quanto à corrupção, seu nível foi sempre menor do que as repúblicas oligárquicas, que se gabaram de moralidade quando na verdade operavam legalmente dentro de um sistema de exploração e corrupção legalizadas. Além disso, há aqueles que fingem ser fascistas, quando sabe-se que o fascismo requer um mito imperial, inconcebível numa luta anti-colonial.
Não precisamos ignorar ou minimizar os erros de nossos populismos do século passado para verificar que no equilíbrio histórico foram altamente beneficiados de duas maneiras. O primeiro é muito óbvio: sem o populismo é provável que muitos ou a maioria de nós não estaríamos aqui hoje e talvez nem sequer tivéssemos aprendido a ler e escrever.
O segundo é que todos os abusos feitos pelos populismos são insignificantes em comparação com as atrocidades, violências, massacres e crueldades de todos os tipos, realizadas por aqueles que usurparam a palavra liberal e resistiram-se à extensão da cidadania ou tentaram remover de raiz a obra de extensão dos populismos.
Mas quando incorporamos à placa da resistência a expansão cidadã a última batalha de neocolonialismo, que eram as chamadas ditaduras de segurança nacional, os abusos populistas potenciais ou reais são diretamente insignificante.
Neste capítulo da nossa história regional, o poder mundial e as forças locais regressivas, perverteram a nossos oficiais militares e viraram nossas próprias forças militares – fundadas pelos libertadores – em policiais de ocupação, levando a um fenômeno de auto-colonialismo de incrível crueldade. O descaramento auto-colonial foi tão longe para assumir um discurso colonialista europeu, como era a ideia de segurança nacional importada das teses francesas de ocupação da Argélia e Vietnã e do terrorismo das OEA, cuja cabeça visível foi defendida discursivamente pelo ideólogo nazista Carl Schmitt em sua famosa conferência sobre a teoria da partidária, pronunciada na Universidade de Pamplona durante a ditadura de Franco.
O saldo deste último suspiro do colonialismo na América Latina é atroz: centenas de milhares de mortos, torturados ou desaparecidos, o terrorismo e intimidação pública ilimitado, perseguições ideológicas absurdas, exílios massivos, gerações intelectualmente decapitadas, subjugação de todas as instituições, como nunca antes tinha conhecido, no contexto de um marco de uma inqualificável empresa de auto-colonização.
O poder punitivo da segurança nacional triplicou o sistema penal, como apontou durante anos a criminologista venezuelana Lola Aniyar de Castro. Junto com o sistema criminal formal foi montado outro paralelo, válido para os estados de emergência, com milhares de prisioneiros sem julgamento ou imputação, e ao lado um sistema penal subterrâneo, completamente arbitrário e encarregado das execuções, torturas e desaparecimentos, que entre outras atrocidades jogou pessoas vivas desde aviões, sequestrou e privou de identidade a crianças e até mesmo empalou adolescentes.
Tragicamente terminou a fase do neocolonialismo a partir da empresa bélica levada a cabo em Malvinas pela ditadura argentina em colapso econômico, que acrescentou mais um sofrimento incalculável e morte de adolescentes liderados por irresponsáveis. Cruelmente fechou a segunda fase do colonialismo na região, assim como tinha começado, derramando o sangue dos mais necessitados dos nossos povos.
Pode-se perguntar, face este equilíbrio, quem foi mais liberal ou, se quiserem, quem foi menos liberal. Os populismos ou seus detratores? A resposta não deixa dúvidas: o mais liberal –ou menos anti-liberais– sempre foram os movimentos populares. O poder punitivo foi neles muito mais limitado e prudente que o terrorismo lançado por seus adversários. Seus excessos punitivos foram jogos de crianças, em comparação com a atrocidade programada.
No caminho para a descolonização, conforme ao objetivo final traçado por Bolívar e San Martin, nos deparamos com a terceira fase do colonialismo: o tardocolonialismo ou fase superior do colonialismo.
Esta fase caracteriza-se por enquadramento num momento de poder mundial em que disputa-se seu exercício entre as grandes corporações econômicas e os políticos. A concentração do poder econômico e o domínio do capital especulativo faz com que hoje desça desde o mundo central esta opção. Quem decide? O poder político eleito pelo povo ou o poder econômico das corporações?
A investida das empresas continua no presente com a usurpação, degradando e distorcendo o rótulo de liberal. Por isso tenta identificar o que é liberal com a liberdade do mercado, chamado liberalismo econômico ou neoliberalismo, proclamado por nossos soldados locais que postulam – seguindo a peregrinos da publicidade imperialista – a indissolubilidade desse liberalismo com a liberdade política.
A verdade é que o livre mercado, assim entendido significa liberdade para explorar aos vizinhos e, quando ele ficar cansado e se recusar, no cancelamento de todas as liberdades e exercício ilimitado do poder punitivo, como já temos tido repetidas oportunidades de verificá-lo em nossa região.
O poder planetário e os soldados entregues aos interesses das corporações desencadearam uma corrupção massiva nas primeiras décadas das nossas democracias pós-ditatoriais, levando ao real desmantelamento dos nossos estados, com dispersão irresponsável de capital estadual e entrega de objetos – chave das economias nacionais, destruindo até onde foi possível o progresso do estado social de direito. Este capítulo inicial do tardocolonialismo terminou porque causou graves crises econômicas e políticas e desacreditou a seus porta-vozes locais, muitos dos quais optaram por se aposentar à vida privada e usufruir dos benefícios obtidos, enquanto outros retornam como patéticos mas perigosos zombies.
Neste primeiro passo de tardocolonialismo o poder punitivo foi exercido exacerbando a seletividade estrutural que o caracteriza, em particular sob a forma de controle sobre os segmentos sociais em desvantagem e excluídos do sistema pelo retrocesso causado pelas ditaduras de segurança nacional e pelo próprio poder corrupto das grandes corporações através de seus funcionários locais. A construção da mídia da realidade, especialmente através da televisão, mostrava que com sanções desproporcionais e restrições às liberações os excluídos não incomodariam, de acordo com o conhecido projeto social 30 e 70 (30% de incluídos e 70% excluídos).
O resultado foi a superlotação das prisões, os tumultos com um número elevado de mortes, a destruição dos códigos penais, a maior autonomia das polícias, a expansão de suas fontes de arrecadação autônoma, a sua posterior desqualificação pública e sua ineficiência crescente.
O desemprego causado pelas crises no final do processo de desmantelamento dos estados vestidos de fundamentalismo de mercado, a destruição do bem-estar social, da saúde pública e da educação, a multiplicação resultante dos conflitos sociais e da incapacidade de resolvê-los, excluíram qualquer tentativa de prevenção primária orientada à fonte mesma de conflito social, enquanto o declínio da polícia enfraqueceu a possibilidade de prevenção secundária (policial). Estas eram as condições quando se fechou o primeiro capítulo de tardocolonialismo.
Mas agora ele se move de outras maneiras e se concentra principalmente em duas vertentes: (a) por um lado, quer aniquilar a consciência latino americana, e (b) em segundo lugar, destruir nossos laços horizontais ou da comunidade através criações da realidade que gerem violências e conflitos e provoquem um aumento ilimitado de poder punitivo, que ao tempo reivindicam aos gritos.
No primeiro sentido afirma-se que entre um maia yucateco e um residente de Buenos Aires, entre um afro-brasileiro da Bahia e um araucano, não há nada em comum, ou seja, que, no máximo, nós somos apenas um bando de náufragos. Talvez porque em inglês (to be) e alemão (sein) não se distingue ser e estar, mas a intenção é que estamos mas não somos.
Isso é repetido por alguns de nós que, é claro, usam os dois verbos, porque não faltam entre nós os intelectuais que pontificam contra as massas ignorantes e inocentes, ainda não preparadas para a democracia, supostamente enganadas por oportunistas e corruptos.
Mas, além de nossos dignos herdeiros de racismo nas repúblicas oligárquicas, que parecem não ter tido conhecimento da passagem da história, temos que nos perguntar por que somos latino-americanos. Qual é o denominador comum da nossa cidadania? O que os índios, afros, mestiços, mulatos e imigrantes na nossa terra temos em comum? Há algo comum nesta enorme diversidade étnica e cultural?
Embora pareça um paradoxo imensurável, a verdade é que nos une como o próprio colonialismo nos fez, no exercício de seu poder devastador impiedoso planetário.
Nossa união e nossa força cultural foram criadas pelos próprios dominadores sem perceber, porque o seu orgulho impediu-lhes de perceber que estávamos nos moldando como uma nação e dotavam-nos de um potencial cultural impressionante que é agora capaz de oferecer à humanidade algumas alternativas ao caminho destrutivo e suicida do poder global atual.
Isto não é para nos entreter inutilmente em reverter o filme da história, mas para analisá-lo a partir da nossa perspectiva. Ao fazer isso, descobrimos com surpresa que o paradoxo é no seu máximo, pois os discursos que facilitam a análise são fornecidos pelo mesmo poder colonial, na conta animada de seu mandato como épica. Se aprendermos a ler estas histórias e desde nossa vantagem continental, esses mesmos discursos nos dizem o que somos pela forma como nós fomos feitos.
Certamente há muitas qualidades e estilos diferentes, mas pessoalmente eu acho que o mais eloquente – quase como poema épico da raça superior –, enquanto o mais finamente estruturado, é a Filosofia da história de um dos seus ideólogos mais sofisticados: Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Desde o centro de poder global nos acostumaram a transformar o discurso com o qual Hegel alegremente saudava ao avanço do espírito, do Geist, mas ao estilo de Marx, notando a falta de uma base material, mundana, mas o fato é que esta não é nossa própria tarefa, pois Hegel fez Marx prisioneiro de sua construção lógica convincente, ao ponto de lhe impedir medir a desumanidade profunda do colonialismo. Isso levou Marx e Engels para afirmar as atrocidades do Estado, como que era positivo que os norte americanos tinham roubado território do México ou que o domínio britânico na Índia tivesse avançado à nação em cinco mil anos. Nunca entenderam a dimensão do colonialismo porque eles pensavam desde o seu núcleo. Hegel foi para a cama, mas não conseguiram colocá-lo de cabeça para baixo.
A partir de uma crítica anticolonial se impõe fazer algo diferente, ou seja, reverter à história, relê-lá cuidadosamente a partir da perspectiva do sujeito submetido, das vítimas. Eu não pretendo a apropriação de ideias de outras pessoas, porque a verdade é que, na primavera da Revolução Mexicana apresentou esta empresa o seu ministro de Educação, José Vasconcelos, autor que não é normalmente nomeado porque em seus últimos anos ele perdeu-se por caminhos tortuosos, embora ocasionalmente vale a pena rever alguns de seus trabalhos (O Homem Cósmico, por exemplo, atualizando sua terminologia).
A verdade é que eu acredito que ninguém como Hegel afirma claramente que a única história é a do colonialismo, que o leva a afirmar que a nossa América não tem história antes da chegada do espírito, isto é, antes do genocídio dos povos nativos, composta por índios que segundo Hegel morrem ao entrar em contato com os conquistadores, num território onde tudo é fraco, mesmo os nossos animais, porque tudo está molhado porque as montanhas não são como na Europa, mas de norte a sul, isto é, que até a nossa geografia é errada.
Mas também não tinha em alta estima aos outros habitantes do planeta, porque, para o grande dialético idealista os africanos estão num estado de natureza e cometem os maiores crimes; os muçulmanos são fãs, decadentes e sensuais sem limitação, os judeus têm uma religião que os submerge no serviço rigoroso, os asiáticos estão só um pouco mais avançado do que os negros, e os latinos nunca atingiram o período do mundo germânico, que é o estádio conhecido por ser livre de querer o verdadeiro, eterno e universal em si e por si.
Assim, o épico cantado por Hegel marginalizou ao longo da história todas as culturas que atravessaram seu caminho genocida. O Geist racista, de quem é considerado a mais alta expressão da modernidade, é o mais claro negador da dignidade da pessoa humana. Somente aqueles que pensavam como Hegel, isto é, que compartilhavam seu mundo ideológico, eram pessoas, porque ao pensar como ele tinha atingido o momento do espírito subjetivo e podiam ser detentores de direitos. Todo o resto: índios, africanos, asiáticos, muçulmanos, judeus, latinos, não parecem ter atingido ao momento do espírito subjetivo, ou pelo menos, não totalmente.
Hegel não fez nada mais que contar a história do progresso predador do colonialismo e alistar as culturas inferiores que jogava ao lado da estrada. Mas a verdade é que há um território geográfico muito extenso no qual o colonialismo em si provocou a concentração de milhões de pessoas de todas as culturas marginalizadas e desprezadas pelo espírito espectral hegeliano: a América Latina.
Em efeito: aos nossos povos indígenas juntaram-se os próprios colonizadores, produto da marginalização sofrida no sul da Espanha – supostamente recuperado- e dos perseguidos europeus amparados por Portugal, os nossos colonizadores foram judeus e islâmicos cristianizados a golpes. Então trouxeram os africanos num tráfego brutal sem ressalvas, os muçulmanos vieram ao se quebrar o Império Otomano, os judeus através de Lima e, em seguida, movidos por perseguições russas e, mais tarde nazista, os asiáticos pelo Pacífico, quando os britânicos proibiram o comércio escravo, os latinos do sul da Europa subdesenvolvida que não podia incorporá-los ao sistema de produção, e estão ainda vindo mais e mais excluídos.
E tivemos conflitos, é claro, mas não permanecemos isolados em grupos fechados por muito tempo, mas começamos a interagir, nossas culturas se sincretizaram e ainda o fazem, os nossos pontos de vista são enriquecidos e aprofundados, longe de se fechar em ortodoxias falsas abrem-se em visões amplas, mais vivenciadas do que intelectualizada.
Quem tem a curiosidade de andar um pouco num mercado popular em todos os cantos da nossa Grande Pátria pode observá-lo. Nem tudo é igual, é claro, mas estão se aproximando eixos culturais: andino, atlântico, do sul. Nossos artistas estão percebendo isso, tanto as artes visuais quanto a literatura. Os nossos sociólogos e antropólogos inteligentes o investigam e outros doutros distritos vieram mesmo para explorar este fenômeno sem igual.
Não existe nenhuma outra região do mundo tão vasto e com tantos milhões de jogadores onde interagem todas as culturas desprezadas pelo colonialismo, humilhadas ou marginalizadas, e elas o fazem quase na mesma língua comum.
Nós somos a outra face do colonialismo, a anti-história viva Hegel. O próprio Hegel advertiu o risco quando disse que os ingleses tinham sido mais sábios do que os ibéricos, porque não tinham se misturado com os nativos na Índia. Ele não advertiu que os colonizadores ibéricos eram marginalizados expulsos da metrópole e a interação era inevitável, porque o isolamento entre eles não pode durar muito tempo.
No momento atual, no qual o poder criado pelo espírito da épica hegeliana – que parece um fantasma – cambaleia perigosamente em risco de acabar com a casa humana, somos os repositórios das culturas que quiseram destruir, mas não na versão original, mas num sincretismo que a tem enriquecido muito mais.
Esta é a América Latina: tem a palavra dos oprimidos em todo o mundo, mas enriquecida, como numa grande assembleia de coexistência interativa, viva, dinâmica. O caos aparente na América Latina é apenas a interação de todos os oprimidos do planeta que tivemos tempo para conversar e mudar línguas, símbolos, ideias, crenças, visões do mundo, e ainda fazemos. Do ponto de vista do poder colonial global representado hoje pela pretensão hegemônica das grandes corporações, constituímos um risco perante o tumulto e oscilações que são percebidas ou anunciadas. Isto é o que não entendem -por ingenuidade ou malícia- os escribas funcionais ao tardocolonialismo, e precisamente por essa razão, desprezam nossos povos.
Vocês também tiveram um Alcides Arguedas quem escreveu em Paris insultando a Bolívia com argumentos racistas. Também em Paris escreveu o famoso conde de Gobineau sobre Brasil, prevendo a extinção da população por hibridização racial. Gobineau era errado e também Arguedas, mas a diferença é que Gobineau era francês e Arguedas boliviano.
Dissemos antes que havia dois lados do ataque tardocolonialismo neste momento. Um lado, que buscava anular a nossa consciência continental, e outro que visa enfraquecer o nosso sentido de comunidade local, através da criação de uma realidade da mídia assustadora e um incitamento permanente de vingança. O curioso deste segundo ataque é um veneno que é administrado no centro do poder mundial: envenenam-se e espalham-se.
Em efeito: os Estados Unidos sofrem um processo de regressão autoritária destrutiva da sua comunidade, como nenhum outro país importante do mundo. A luta pelo poder e hegemonia das corporações fizeram que nas últimas três décadas o país tenha instalado uma enorme máquina repressiva, a qual agora coloca em prisão a mais de dois milhões de pessoas e controla com liberdade vigiada e condicional a outros três milhões, os quais mais da metade são afro americanos.
Penalidades tolas e alta seletividade do poder punitivo, perda de garantias e prioridade do pragmatismo condenatório, são as características deste poder punitivo que parece cortado na medida de um stalinismo financeiro, que tem tornado o país, por longe, no campeão do mundo da prisionização, com um índice maior do que a da Rússia, que sempre teve esse triste mérito.
É necessário esclarecer que este processo começou com as administrações republicanas de Ronald Reagan e é absolutamente estranho a toda a anterior formação histórica dos Estados Unidos, tendo dado origem a muitas investigações e críticas dos nossos colegas norte-americanos, realizados sob a liberdade acadêmica que, felizmente, continua se respeitando. Para todos, recomendo a leitura de Governing through Crime, a muito interessante pesquisa de Jonathan Simon, professor na Universidade da Califórnia (Berkeley), recentemente traduzido para o castelhano em Buenos Aires.
Semelhante aparelho requer um investimento que se calcula em duzentos mil milhões de dólares anuais, o que não pode ser imitado por ninguém no mundo. Além disso, esta empresa tão grande não só extrai pessoas do mercado laboral, mas também importa uma altíssima demanda de serviços, o que lhe dá um papel importante como variável de emprego. Estes dados fazem com que seja muito difícil desmontar esse mamute punitivo, alguns colegas norte americanos acham que sua dimensão tem obtido uma dinâmica própria que escapou ao controle dos seus criadores.
Esta potenciação formidável do poder punitivo exige forte apoio ou de consenso público, alcançado com a criação de uma realidade da mídia destinada a mostrar o crime comum como o único e maior risco social, enquanto que atribui a sua responsabilidade a um grupo étnico individualizado, elevando-o ao estatuto de inimigo. Fazer inimigos é o método usado por todos os genocidas e recomendado como a essência da política pelo sinistro Carl Schmitt. Muito poderíamos falar sobre isso, mas prefiro não me estender, referindo-me ao que escrevi muitas vezes.
A verdade é que, enquanto não podemos copiar o modelo que emerge dessa estranha reviravolta norte-americana das últimas três décadas, recebemos a sua publicidade e a sua metodologia e, além disso, temos que ter em mente que o grande empresariado dos meios de comunicação também é parte da rede de grandes corporações, porque os seus investimentos estão inextricavelmente entrelaçada com eles. Portanto, não é surpreendente que nossos meios de comunicação também se concentrem na criação de pânico moral, à fabricação de inimigos e vítimas heróis e, finalmente, para tentar mobilizar os piores sentimentos de vingança em nossas populações, com bombardeios contínuos de notícias vermelhas e demandas de maior repressão punitiva.
Por sua parte, importada diretamente do centro, a comunicação de entretenimentos repete as intermináveis séries policiais dobradas em todas as línguas e vendidas a um custo muito baixo, projetadas com base numa estrutura simplista em que o suposto herói (geralmente um psicopata) triunfa porque ele usa a violência, viola os limites legais, ridiculariza a algum funcionário prudente (por trás da qual se encontra o ódio usual ao juiz) e, portanto, mata o vilão e salva a mulher, geralmente mostrada como inferior, fraca e boba mesma. Numa hora de fazer zapping na televisão vemos mais homicídios daqueles cometidos num ano em nossa cidade, e com um grau de crueldade que raramente ocorre na realidade. O corolário infalível é que não há outra solução para qualquer conflito que a violenta e punitiva.
De acordo com o teorema antigo e bem conhecido de Thomas, pouco importa que algo seja verdadeiro ou falso, porque se o tomar de verdade, vai produzir efeitos reais e, naturalmente, estes efeitos ocorrem, a crença geral de que a violência está crescendo instala-se e também a demanda de vingança, disfarçada de demanda de segurança, sem ninguém reparar que a repressão é sempre posterior ao fato e nada é feito por evitá-lo: após o assassinato é possível matar o assassino, mas isso não impede outro assassinato.
Fora do grupo dos chamados formadores de opinião da televisão e rádio, em termos científicos, ninguém defende hoje o efeito dissuasor pretendido da punição de crimes graves e violentos. O mais grave um crime, a sanção legal – seja qualquer – tem menor efeito dissuasor, até atingir o terrorista que carga dinamite e explode no meio de uma multidão, porque ele acredita que vai alcançar o paraíso. Na verdade, se alguém quisesse dissuadi-lo, para sua própria segurança, a última coisa que eu aconselho é aproximar um código penal.
Mas quanto irracional seja, os políticos são prisioneiros da mídia da massa, seja por oportunismo, má fé ou até mesmo os honestos, por medo à agressão da mídia. Os juízes são ameaçados pela mesma agressividade e oportunismo dos políticos. Os legisladores destroem os códigos penais e os juízes decidem condenas com medo. O medo da população e o movimento vingativo promove o medo dos políticos e juízes. As corporações buscam governar por meio do medo paranoico.
Os meios de comunicação constroem uma realidade que tem como objetivo mostrar aos governos populares como caóticos, apenas quando eles não conseguem encontrar outras razões para confundir a opinião pública, mas com isso causam um caos real no sistema de justiça criminal, provocam desequilíbrios, condicionam uma sentença de morte por acaso em prisões superlotadas e precárias por presos temporários, na maioria em prisão preventiva, realizam campanhas de conduta de assédio aos juízes, os desacreditam, os insultam com impunidade aproveitando a antiga e notória incapacidade judicial para a comunicação de massa, sempre desde uma posição de inferioridade, impotência e vulnerabilidade alta face ele.
No entanto, não contentes com isso, os meios de comunicação, através de comunicadores e formadores, postulam uma expansão cada vez maior do arbítrio policial, resultando numa extensão da autonomia da polícia sobre os controles político e judicial, e por conseguinte, um nível mais elevado de arbitrariedade para a formação de caixas de arrecadação autônomas.
A isto claramente contribui a falta de um modelo apropriado de polícia na região. Copiamos a Constituição norte-americana, mas não a sua polícia comunitária. Além disso, instigam-nos a centralizar e ter policiais únicos, que se tornam incontroláveis e sitiam o poder político e judicial, quando os Estados Unidos têm milhares de policiais.
Na região parecem ser agora as polícias aquelas que realizam os golpes militares e no os militares, o seu poder autônomo é capaz de desestabilizar muitos governos e distribuir parte de sua receita com chefes políticos locais, especialmente quando o financiamento de campanhas eleitorais dos partidos em causa. A instituição policial se deteriora e perde a sua capacidade de guarda.
Esquecemos que a polícia é essencial, há países sem forças armadas, mas sem polícia nenhum, tornando-se uma prioridade cuidar a instituição da polícia e o planejamento de um modelo de acordo com nossas necessidades e características, de tamanho adequado, com a integração da comunidade e controles políticos e judiciais eficazes.
Quanto aos inimigos, quando há melhores candidatos ignoram-se criminais comuns, mas quando não há terroristas ou outras organizações com caracteres conspiratórias, eles são eleitos e, em particular, os nossos adolescentes de favelas. Eles são os inimigos da mídia construídos em nossa região, mas muitas vezes também atribuem esse papel a colegas imigrantes de países vizinhos.
É bastante claro o propósito de destruição da comunidade visado com a criação da realidade: gerar violência social, verticalizar nossas sociedades, priorizá-los para melhor submeter os nossos setores sociais pobres e vulneráveis, semear a desconfiança entre nós, romper todos os laços de comunicação de interclasse, empurrar para trás as garantias penais e processuais, evitar que os segmentos excluídos possam coalescer mediante a seleção de criminalização, de vitimização e policizante dos mesmos setores, e etc.
Em suma, trata-se de destruir no máximo as relações horizontais de cooperação, diálogo e resolução pacífica de conflitos, desacreditando e ridicularizando qualquer tentativa nesse sentido. A razão para este ataque é sempre conhecida, o Martín Fierro o diz: se você matar os que estão dentro, os devoram os forasteiros.
Mas na verdade aumenta a violência em nossas sociedades? Esta é uma boa pergunta, porque o revelador é que a América Latina mostra um panorama muito diferenciado de níveis de violência social. Neste momento México está passando por uma terrível tragédia com milhares de mortos numa massacre sem precedentes, que responde a uma divisão internacional do trabalho muito particular. Na América Central o problema não é menor, de alta frequência de assassinatos, gangues, etc. Mas no Sul a questão parece ser diferente: temos baixas taxas de homicídio e, pelo menos, no Uruguai, Argentina e Chile parecem estar baixas. Argentina cortou a sua taxa num terço nos últimos dez anos, no Brasil, embora seja alta, também conseguiu baixá-la num terço. Em suma: sendo muito diferente o nível da violência social na região, o que é surpreendente é que a publicidade vingativa e a criação de pânico moral são idênticas em todas elas, isto é, é uma metodologia à qual é indiferente o grau de violência real de cada sociedade.
Quanto aos países da região sul, é concebível pensar que os países não são patológicos e, portanto, não constituímos um fenômeno novo e ao contrário da experiência no mundo todo, no qual todos os criminologistas sabem que quando um país aumenta a sua renda per capita, o emprego aumenta e reduz a distribuição desigual, a curva de homicídios tende a diminuir, e estes são precisamente os dados econômicos que nos informa a CEPAL nos últimos anos. No entanto, o pânico moral se espalha e os políticos honestos estão com medo e os desonestos e corruptos se aproveitam do medo para semear o caos e enfraquecer os governos das pessoas.
Se qualquer evidência faltasse sobre que a construção da mídia duma realidade violenta e caótica é um instrumento que a reação contra o povo utiliza, eu recomendo dar uma olhada em todas as proclamações das ditaduras militares da nossa história e verificar que em todas se demandam maior repressão face o alegado avanço imparável da criminalidade comum.
Mas os políticos honestos estão com medo, não sabem como responder à agressão da mídia, quando na verdade eles têm a resposta na mão, tão perto que não a veem, como seu próprio nariz. Perón parafraseava a algum filósofo e, muitas vezes repetia que a única verdade é a realidade e, de fato, esta é a melhor defesa, mas não a veem, permanecem hipnotizados pela televisão e tremem perante ela no lugar de responder, estão paralisados perante o risco de ser demonizados televisivamente.
Este é porque, simplesmente, ninguém sabe exatamente o que acontece na realidade e, embora seja muito fácil de descobrir, ninguém o faz. Em momentos depressivos, por vezes acredito que ninguém está interessado em evitar a morte de seus companheiros, mas este pensamento parece-me terrível. Se a única verdade é a realidade, mas optam por não a encontrar, não se pode dizer nenhuma verdade.
Bastaria fazer um protocolo muito simples, com vinte perguntas sobre cada homicídio e assistir cada expediente poucos minutos para respondê-las, centralizar a informação e com uma equipe pequena de sociólogos e estudantes de ciências sociais desenhar curvas e cruzamento de dados.
Este procedimento exploratório tem quase nenhum custo operacional e certamente demonstrará que os homicídios estão concentrados em determinadas localizações geográficas das cidades e em alguns setores da população, irá verificar que os pobres não saem para matar ricos, mas que se matam uns aos outros, mostrará que o grupo estigmatizado não é o que protagoniza o maior número, quase sempre verificará que predominam os homicídios entre conhecidos perante os que ocorrem entre estranhos, etc.
Mas também, indicará que são as vítimas, qual é o risco de vitimização a ser neutralizado, como evitar os resultados, onde concentrar a vigilância, etc. Em suma: como nada se sabe, não se pode dizer nada e, coisa mais séria, então não se pode prevenir nada.
Nossos líderes não podem ignorar que quanto mais cidadania corresponde menos violência e, se de fato eles estão cumprindo com a função de ampliação da cidadania, não devem ter medo da realidade, mas enfrentá-la e, para isso, eles devem primeiro estudá-la, de modo simples, sem métodos sofisticados nem caros, como a simplicidade que eu propus, uma investigação bastante rude, apenas exploratória, mas que ninguém se preocupou de levar a cabo em qualquer dos nossos países.
O caminho mais curto para o desastre é o da concessão ao pedido da mídia do maior poder punitivo. Trata-se de uma extorsão e nunca deve ceder perante o chantagista, porque eles sempre vão voltar por mais, até que seja impossível satisfazer as atrocidades que reclamem ou até que a polícia autonomizada incorra na primeira violência e, nesse momento, a mesma mídia que reivindicou sua autonomia vai rasgar seu cabelo e acusarão de totalitários e fascistas aos políticos e governos que se submeteram às suas pressões anteriores.
É necessário que as forças populares na nossa região tomem consciência urgente que o pedido de poder punitivo é um recurso do tardocolonialismo para destruir nossos laços comunitários locais, a nossa solidariedade social, o nosso sentido de pertença e, mais imediatamente, para desestabilizar os governos populares.
Os povos podem-se desconcertar, mas sempre sabemos que no fundo as únicas vítimas do poder punitivo na região tem sido sempre o mais vulneráveis entre eles.
Desde os primórdios do processo de descolonização sabemos que o poder punitivo deve ser contido, porque é o instrumento preferido de dominação, o que usou para nos converter num imenso campo de concentração, depois para manter a disciplina dos oficiais das oligarquias fundiários e de mineração, mais tarde para decapitar nossas gerações mais jovens, e agora para desestabilizar qualquer governo popular e para nos destruir como comunidades.
As garantias liberais, as reais, as que foram abastardadas em leis declamatórias por nossos racistas, restauradas em seu verdadeiro sentido, sempre foram um instrumento de libertação que nos permitiu espaços sociais nos quais nos desenvolvemos ou consolidamos como comunidade, enquanto o poder punitivo sempre foi racista e de escravidão para nos submeter mais facilmente.
Ninguém pode ser enganado nesta fase do tardocolonialismo: os interesses colonialistas que se movem por trás das corporações da mídia não pedem mais porque eles sabem que carecem de espaço, mas se eles pudessem expandiriam o poder punitivo para nos tornar à condição de campo de concentração. San Martin e Bolívar o sabiam e os graduados desta Casa também, e por isso foram perseguidos, exilados e mortos.
O direito penal de garantias, os limites ao poder punitivo, são essenciais para a extensão da cidadania, enquanto o poder punitivo é necessário para aqueles que buscam a contenção regressiva. Isto é, em suma, o que a história nos ensina, a nossa própria história, a do nosso processo incompleto de descolonização.
Nesta fase temos que usar a inteligência com grande habilidade e, para fazer isso, merecem serem relidos os livros que Bolívar e San Martin levavam em suas mochilas.
Prova das convicções mais profundas dos nossos próceres ao respeito foi a sua preocupação com os códigos que estabelecem limites para o poder punitivo, como testemunham as palavras eloquentes com as quais o Marechal Santa Cruz proclamava o código penal boliviano de 1831 e com as quais eu iria fechar esta exposição: As leis claras e positivas são base para a boa administração da justiça, e a boa administração da justiça é o único capaz de garantir os direitos dos cidadãos, e lhes inspirar a tranquilidade que é a liberdade, e o prazer do que é caro para o homem constituído em sociedade.
Sucre, 26 de março de 2012.